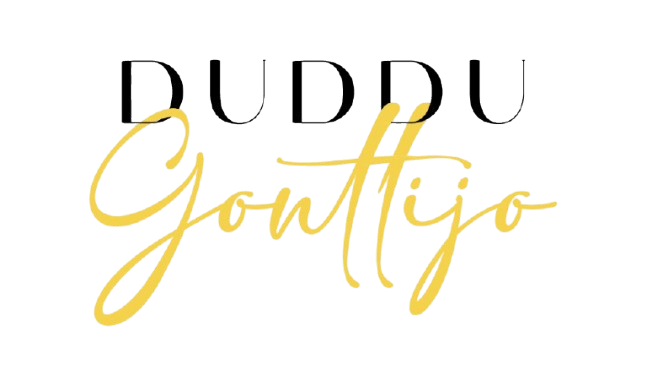Já comi muito bem na Itália, já rezei profundamente na Índia e já amei “como se não houvesse amanhã” em Bali. Ainda que sem a intenção sabática da escritora Elizabeth Gilbert – autora do imenso sucesso editorial “Comer, rezar, amar” -, conheço cada etapa da peregrinação que essa jornalista impôs a si mesma. Viés que faria de mim talvez uma pessoa qualificada para avaliar a validade das experiências que resultaram de seu projeto – se não no livro (que até hoje não li), pelo menos na adaptação do “best seller” mundial para o cinema, que estreou no Brasil na última semana, estrelando ninguém menos do que Julia Roberts no papel principal.
Porém, diferente de Liz (como ela se apresenta aos seus leitores), eu tinha outras prioridades quando visitei – mais de uma vez – os três destinos que mudaram sua vida. Na Itália, por exemplo, tenho até hoje dificuldades de me sentir em casa – a melhor viagem que fiz ao país até hoje foi uma temporada em que passeei de carro pela Sicília (quando então, comer, rezar, amar, eram meras consequências naturais e bem-vindas das belezas que me cercavam). Amigos e conhecidos que sabem bem do prazer que tiro de cada viagem acham essa minha “implicância” com a Itália – que, obviamente, não tem nada a ver com a culinária – é um enigma. Eu também acho, mas não tenho pressa de resolvê-lo: sei que um dia ainda vou descobrir um roteiro que finalmente coloque a paisagem e o estilo de vida italianos como prioridade na minha vida.
À Índia, foram várias visitas. Do inesquecível impacto da primeira vez que aterrissei em Nova Déli, nos idos de 1984 – experiência que poderia ter me traumatizado para o resto da vida – ao entusiasmo frenético de Mumbai que me contagiou quando passei por lá no início deste ano(passando, claro, pelas maravilhas do Rajastão aliadas à hospitalidade que encontrei na casa de amigos em Déli mesmo, quando estive lá em 2004), não houve nenhuma vez em que pisei no país e não me senti provocado espiritualmente. Se cheguei a flertar com o hinduísmo, e tenho dezenas de estátuas e imagens de Ganesh espalhadas pela minha casa e meu trabalho, a “culpa” – no caso, uma culpa positiva – é da Índia. Se isso me ajudou a encontrar um eixo mais elevado na minha insignificante existência terrena, isso já é outra história…
Já Bali… Bem, minhas memórias de lá são bem antigas – e profundas. Visitei a “ilha da beleza” pela primeira vez em 1984 (na mesma oportunidade em que conheci a Índia), e fiquei por lá por cerca de dois meses. Eram outros tempos, claro, quando a vida ainda me permitia tirar “férias” longas como essas. Viajando com um grupo de dança, fomos com o objetivo de aprender um pouco daquele gestual tão expressivo da cultura balinesa – e é interessante lembrar que, mesmo com todo nosso empenho em fazer aulas diárias antes das 6h da manhã (o único momento do dia em que a temperatura favorecia algum exercício!), tudo que consegui, graças ao dedicado professor Dimat, foi aprender uma dança de adolescentes, e mesmo assim… Mas eu divago…
Ainda voltaria a Bali em 2001, apenas por um par de dias, para fazer uma reportagem (enquanto visitava o Timor Leste), mas a memória mais forte daquele lugar extraordinário são aquelas de mais de 25 anos. Os amores naquela época eram mais fáceis que os passos da dança que ensaiávamos – disso não tenho dúvidas. Fins de tarde embalados por trilhas sonoras que misturavam gamelãos com Duran Duran (era o ano 1984, lembre-se!), convidavam sempre para um clima, se não romântico, pelo menos sensual o suficiente para que fosse possível adaptar a sinuosidade das coreografias que aprendíamos (éramos um grupo de 11 pessoas) às frementes demandas da juventude que eu atravessava.
Bem servido então dos lugares e dos atrativos que esses lugares oferecem, fui então assistir a “Comer rezar amar”. E foi esse meu passado que me fez entrar na sessão animado e de boa vontade – se dependesse nas críticas ao filme, tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, que eram no mínimo tépidas, talvez eu nem teria comprado um ingresso… Mesmo tarde da noite (minha projeção começava às 23h30!), guardava sim uma expectativa – não só no que diz respeito a minha identificação com aqueles destinos, mas também por um fascínio pessoal que tenho por Julia Roberts (e que, sei bem, divido com mais da metade da população do nosso planeta…).
Tudo começou (como também deve ter começado para mais da metade da população do planeta) com “Uma linda mulher”, em 1990. Menos encantado pela trama “cinderelesca” do filme do que pelo carisma daquele rosto enorme e sorridente na tela de um cinema – as pessoas naquela época, acredite, ainda compareciam em massa às salas escuras para ver pessoas de verdade! -, fui desde então enfeitiçado por Julia Roberts.
Não exatamente como um símbolo sexual – que, mesmo hoje, considero que ela nunca tenha sido. Sharon Stone era o mulherão da vez – em “Total recal”, e mais ainda em “Instinto selvagem”, dois anos depois. Demi Moore, em “Ghost” era a “namoradinha” dos sonhos masculinos. E Madonna, em “Dick Tracy” certamente colocava o patamar da sensualidade nas telas da época bem acima do que Julia Roberts poderia alcançar. Mas aquele sorriso tinha alguma coisa – alguma coisa que conquistou a simpatia de milhões de pessoas no mundo inteiro. Inclusive a deste então jovem que vos escreve aos 47 anos…
Julia (se me permite a intimidade) completa 44 anos agora no fim do mês, e eu mesmo que acompanho sua carreira com dedicação, não me lembro de tê-la visto tão radiante num filme como nesse seu último trabalho. (Aquela cena do museu em “12 homens e um segredo” é memorável, mas é uma cena só…). Há um momento em “Comer rezar amar” onde ela se senta no chão do apartamento que aluga em Roma, e decide escrever para o namorado que deixou em Nova York antes de viajar, em que ela está simplesmente resplendorosa! E foi aí que o filme – que até então eu estava tendo dificuldades de “abraçar” – começou a me ganhar.
Mas que namorado é esse que ela deixou para trás – e do que exatamente seu personagem estava fugindo? Bem, vamos a um resumo breve – se você não está entre os milhões de admiradores da saga pessoal de Elizabeth Gilbert. Repórter e escritora de relativo sucesso, ela decide um dia que não aguenta mais sua “vida perfeita”. Fora a carreira bem-sucedida, seu casamento é, pelo menos visto de fora, irretocável. Curiosamente – ou não, para quem já passou por uma separação “braba” – essa é a primeira coisa da qual ela decide cair fora. Um novo caso amoroso surge com um ator emergente do teatro nova-iorquino (interpretado por James Franco), mas ela vê que logo está de volta às mesmas armadilhas de seu casamento – alguém se identifica com isso? Posso prosseguir?
Enfim, cansada de repetir as mesmas fórmulas em busca de harmonia em sua vida (a maioria da vezes que achamos que estamos vivendo em harmonia estamos na verdade bem longe dela, como você já deve ter reparado, adormecidos por uma rotina que supostamente se encaixa, mas cujo único objetivo é desviar nossa atenção para o quão tudo por trás dela está errado… mas, nossa!, eu divago “master” agora, perdão…) – enfim, procurando uma saida, Liz/Julia parte para três ciclos que, ela acredita, vão purificá-la.
Quem ganha com isso, aparentemente mais que a própria autora (que não só voltou renovada da viagem, casada com um brasileiro tipo “homem da sua vida” que conheceu em Bali, mas também escreveu um dos maiores sucessos de vendas neste início do século 21), é a leitora – e a espectadora (e se uso as duas palavras no feminino, é na certeza de que a maior parte de seu público pertence a este sexo). O livro (que, repito, não li) parece mesmo transformador – percebo isso no rosto das mulheres que vejo lendo em salas de espera de aeroportos e mesmo no depoimento de amigas que já o devoraram. E o filme, por analogia, tem tudo para replicar esse efeito – potencializado, é claro, pelas dimensões da grande tela…
Curiosamente, apesar de não ser exatamente o público-alvo da história que Liz conta, não me aborreci assistindo a “Comer rezar amar”. Pelo contrário! O filme é, talvez, um pouco longo – sobretudo na sua parte final, a balinesa (e olha que, como já apresentei acima, eu tenho tudo para me identificar com a visita a essa ilha, inclusive com aquele xamã que ela conhece por lá… o meu não se chamava Ketut como o dela, mas Saprek, apesar de eu sempre achar que entre eles seus discípulos diziam “Saprong”, e mais do que “consultas espirituais”, o meu xamã passava sua mensagem aplicando doloridíssimos toques de massagem oriental… mas eu divago pela terceira vez, melhor eu me controlar…). Porém, toda vez que a sensação de que uma cena ou uma sequência estava durando além do necessário, Julia Roberts vinha me salvar com aquele rosto que definitivamente não é desse mundo!
Nem mesmo Javier Bardem, que faz o papel do “brasileiro” que se apaixona por Liz em Bali, é páreo para a luz de Roberts. Se ao lado de sua mulher, a atriz Penélope Cruz (como pudemos ver em “Vicky Cristina Barcelona”), uma sinergia entra em ação e ele funciona como um vulcão de testosterona, aqui Bardem é um mero espelho da beleza de Roberts, “condenado” a apenas refletir o seu brilho. Sei que boa parte do público feminino, e das minhas leitoras, talvez discordem de mim nesse aspecto, mas foi assim que eu vi…
“Comer rezar amar” é sim um grande veículo para Julia Roberts – que há um bom tempo não ganha um filme capaz de fazer justiça ao seu talento e seu magnetismo. Eu me diverti bastante e, como deixei claro, sei bem que o filme não é para mim – a não ser pela coincidência de conhecer bem Roma, Índia e Bali, não passo nem perto dos dilemas de Liz (apesar de estar lutando com impasses de outra ordem – eu sei, divago pela quarta vez). E considero um mistério o fato de essa produção – que ainda conta com a direção do cara responsável pelo sucesso da série de TV “Glee”, Ryan Murphy – não ter feito o sucesso esperado (pouco menos de 80 milhões de dólares, em dois meses nos EUA). Por que você não vai assistir e me ajuda a entender o que aconteceu?